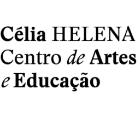Em 2021, o diretor Kleber Montanheiro, 55 anos, deu a largada às comemorações dos 25 anos da Cia. da Revista, grupo fundado em 1997, com o anúncio da trilogia Conexão São Paulo – Pernambuco. Nossos Ossos, adaptação do romance do escritor Marcelino Freire, estreou em novembro daquele ano. O projeto seria completado por Tatuagem, versão do filme de Hilton Lacerda, e Dois Joãos, encontro ficcional do poeta João Cabral de Melo Neto (1920-1999) e um personagem João, alter ego de tantos desfavorecidos deste mundo.
Em comum, os três espetáculos misturariam elementos de crítica social relacionados ao fluxo migratório, questões da representatividade LGBTQIAP+ e, claro, o universo musical, marca da Cia. da Revista. Tatuagem, trama ambientada na ditadura militar que envolve um jovem soldado e um diretor de teatro, estreou em 2022 e teve repercussão expressiva com participações em festivais, como o de Curitiba. O diálogo entre a cultura pernambucana com pautas da desigualdade e diversidade se fortaleceu na proposta do coletivo, o que gerou expectativa quanto ao trabalho inspirado em João Cabral.
Dois Joãos virou simplesmente João e chegou ao palco do Espaço Cia. da Revista, em Santa Cecília, quase nos 28 anos do grupo. O que se pode garantir é que valeu a espera até porque assuntos tratados ali estão mais efervescentes hoje do que, por exemplo, há dois anos. Alguns imprevistos, inclusive, aumentaram a curiosidade da plateia. Em 13 de junho, a estreia foi cancelada minutos antes devido a um problema técnico na mesa de som que inviabilizou a sessão de abertura, realizada na noite seguinte. Dez dias antes, a atriz Marina Mathey enfrentou uma crise de apendicite, precisou ser operada e só voltou à ativa na terceira semana da temporada. Foi substituída com brilhantismo pela atriz Mattilla, responsável pela personagem Gaivota, uma das principais, até a recuperação da titular.

Bastidores à parte, o que interessa é que João é um daqueles espetáculos carregados de sofisticação em sua aparente simplicidade. Tudo isto porque vem apoiado em uma linguagem que quando atinge o público arrebata, a poesia. Com dramaturgia de Marcelo Marcus Fonseca, direção musical e arranjos de Marco França e letras de Vitor Rocha, a encenação de Montanheiro conta com uma equipe capaz de apresentar uma história lírica impregnada de realismo sem que o caráter fabular imbecilize o tom de denúncia.
Os dois pernambucanos batizados como João em berços bem distintos embarcam no mesmo trem no começo da década de 1940 em busca de sonhos no Sudeste. O escritor João Cabral de Melo Neto (interpretado por Vitor Vieira) segue para o Rio de Janeiro rumo ao reconhecimento. No bloquinho em que faz anotações no trajeto, provavelmente, registrou impressões do companheiro de viagem que o inspirariam mais tarde. João (representado por Dudu Galvão), uma visível releitura do personagem Severino, da obra-prima de Cabral Morte e Vida Severina (1955), desembarcou em São Paulo para trabalhar “onde tiver trabalho”. O resto é não morrer de fome ou perder a dignidade.
“Meu negócio é ir!”, afirma o personagem. E ele veio para a metrópole, deu de cara com a realidade nada amigável, endossou o clichê de ter a mala roubada poucas horas depois do desembarque e dormiu na sarjeta. Como em um bom folhetim que ilude o espectador com a possibilidade de um final feliz, ele desperta a piedade e o carinho da travesti Gaivota (papel de Marina Mathey), que se vira pelas ruas, faz faxina e ambiciona ser reconhecida como artista.
De bom coração, Gaivota leva o retirante para morar com ela e Noêmia (personagem de Bia Rezi) na casa em que cresceu e, agora, está sob ameaça de despejo para que no lugar seja erguido um empreendimento. “Quem dera ser eu mesmo nesta cidade apavorante”, lamenta João. Disposto a não representar um peso para as anfitriãs, ele descobre um talento natural que poderia fazer diferença na cidade grande e vai além da mistura de cimento, que jura organizar como ninguém.

Para João Cabral, filho de senhor de engenho, a perspectiva, óbvio, foi diferente desde o começo. “O meu negócio é ser!”, diz ele, em resposta ao “meu negócio é ir!”, propagado pelo xará. O objetivo do poeta era consolidar um projeto literário e construir laços com amigos ilustres, como Carlos Drummond de Andrade (1902-1987), Vinicius de Moraes (1913-1980) e Lêdo Ivo (1924-2012). Na estrada sem limites para os privilegiados, ele se torna diplomata do Itamaraty e centro de uma complexa polêmica política.
Responsável pela dramaturgia, Marcelo Marcus Fonseca é também o diretor da Cia. Teatro do Incêndio, contemporânea da Cia. da Revista e de propostas artísticas semelhantes. Como a violência social e os contrastes de classe, especialmente em meio ao fluxo migratório, se perpetuam ao longo das décadas, o autor acerta ao criar uma narrativa sem tempo definido e garante com um tom fabular o entendimento do espetáculo por plateias heterogêneas.
A biografia de João Cabral evidentemente aparece mais situada em um tempo e espaço com referências a personagens reais e interferências do contexto histórico. A trajetória do João do povo, porém, não se destina a registrar a história de época alguma, até porque a luta pela sobrevivência, a miséria e as derrotas sociais pouco mudam a coloração das tintas no decorrer das décadas.
Então, propositadamente, os conflitos do personagem do ator Dudu Galvão, comuns nos anos de 1940 ou 1950, seguem enraizados em 2020. Os desmandos da especulação imobiliária, a aporofobia, a violência contra a mulher e a corrupção no ambiente policial permeiam a contemporaneidade da peça através do João dos pobres.

O outro João, o Cabral, por sua vez, flutua em uma lua cenográfica protegido pela intelectualidade. A compreensão é um pouco mais complexa e exige uma bagagem extra para quem desconhece a biografia do poeta ou a sua célebre criação Morte e Vida Severina, evidente canal de metalinguagem decifrado pelos iniciados. Mas tudo certo, o teatro nem sempre precisa alfabetizar o espectador e, disposto a participar da experiência, qualquer um capta a mensagem como puder.
Até porque para se envolver com a encenação existe um irresistível facilitador: as músicas compostas e arranjadas por Marco França e letradas por Vitor Rocha. São 13 ao todo e – raridade na produção do gênero – algumas delas têm chances de seguirem um caminho autônomo independentemente da peça.
Boa parte da responsabilidade deste feito se deve ao surpreendente grau de maturidade atingido por Rocha, artista mineiro de 27 anos que mora em São Paulo desde 2016 e demonstra evidente talento como dramaturgo. É como se nas letras do espetáculo João Rocha saltasse de uma visão idílica comum aos jovens, mesmo os mais dotados (caso da sua ótima peça Donatello), para um olhar cru necessário a um bom cronista que, aqui, encontrou o complemento certo nas melodias de França.
“É polícia matando em nome da família, mas café com Deus pai tomando todo dia, é a galera na rua e continência pra gringo, é problema atrás de problema e ninguém olha pro próprio umbigo”, canta Marina Mathey, a Gaivota, que segue “É bandido mandando, e pedindo anistia, é racismo escondido na velhice das tia, é comida no lixo e criança com fome, é problema atrás de problema, e o que mais incomoda é um pronome”. Letras como esta explicitam a crítica social sem poupar nenhum dos lados e oferecem uma reflexão de fôlego sobre a parte de cada um neste latifúndio devastado.

Na voz de Vitor Vieira como João Cabral, outros versos podem ganhar tanto leituras políticas como sentimentais: “Estão me despindo do que eu já vivi, despindo o modo de lembrar o que eu aprendi, estão desencaixotando minhas emoções, raspando a tinta dos sentimentos, das opiniões”. Se parte dos musicais costuma se esquecer de que as letras são complementares para o entendimento dramatúrgico, em João não só a função é reafirmada como é oferecido um retrato adulto e nada ingênuo coerente à proposta da montagem.
Muito comum em análises sobre produções musicais são as observações ficarem fixadas nas qualidades de encenação ou direção de arte e poucos comentários sobrarem para os atores e atrizes. Em João é impossível dissociar o resultado bem-sucedido do elenco. Vitor Vieira é um artista completo e de presença marcante em tudo o que participa. Neste caso, ele imprime um distanciamento em João Cabral fundamental para o caráter cerebral do personagem polarizar com o de João de Dudu Galvão.
Galvão constrói uma performance pautada pelo sentimento e sem qualquer pieguice. Ele imprime inocência e doçura próximas aos personagens oriundos da cultura popular ou mesmo aos tipos do cineasta italiano Federico Fellini (1920-1993) nos filmes Noites de Cabíria e A Estrada, protagonizados por Giulietta Masina (1921-1994).
Uma grande surpresa, principalmente vocal, é a atriz Bia Rezi como a sofrida Noêmia, parceira de Gaivota. Ela é responsável por picos de dramaticidade, principalmente diante dos abusos de Biula (papel de Zé Guilherme Bueno, com presença forte), a reprodução do miliciano dos dias atuais, e, como cantora, Bia dá voz ao sofrimento e à intensidade da personagem no variado arco dramático.

O mais rico personagem, entretanto, é a travesti Gaivota, figura combativa e sinônimo da resistência que é viver em uma metrópole sem perder a propensão para o afeto e o cultivo da memória. Este que vos escreve assistiu ao espetáculo com Gaivota defendida tanto por Mattilla como por Marina Mathey. São composições distintas e cheias de personalidades que atestam tanto a firmeza e o respeito da direção de Montanheiro quando a consistência da personagem.
Enquanto Mattilla apresentou uma Gaivota mais agressiva e pungente, Marina é econômica e não menos provocadora na caracterização, capaz de oferecer uma humanidade à personagem que a afasta do tom indignado da colega ainda que jamais se distancie da energia.
Como Vieira, na pele de João Cabral, reafirma diversas vezes ao longo da montagem, o autor de Morte e Vida Severina não gosta de música e considera que a sonoridade atrapalha a poesia. João, o espetáculo de Kleber Montanheiro, talvez venha pela segunda vez provar que mesmo os gênios também se apequenam ao insistir em birras sem fundamento.

Assim como o João em cartaz no Espaço da Cia. da Revista é o que é por causa da música, o próprio João Cabral em carne e osso precisou dar o braço a torcer diante do compositor Chico Buarque, como aparece registrado em João Cabral de Melo Neto, Uma Biografia, livro escrito por Ivan Marques e publicado pela Todavia em 2021.
Depois de assistir ao espetáculo Morte e Vida Severina, dirigido por Silnei Siqueira (1934-2013) e musicado por Buarque em 1965, em um festival na França, o poeta assumiu a emoção em uma rara exposição de suas contradições ao jovem que se tornaria um dos maiores nomes da MPB. “Eu não conseguirei jamais ler Morte e Vida Severina sem associá-la com sua música”, confessou a Chico Buarque o homem que sempre detestou as canções.
Nota: As informações e opiniões contidas neste artigo são de inteira responsabilidade de seu/sua autor(a), cujo texto não reflete, necessariamente, a opinião do INFOTEATRO.