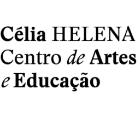É raro um artista, depois de encontrar uma assinatura, entender a necessidade de dar um passo atrás para ampliar suas frentes. O diretor José Roberto Jardim, de 47 anos, onze deles dedicados à encenação depois de uma longa carreira como ator, teve essa resiliência ao levar ao palco Pawana. O texto do escritor francês J.M.G. Le Clézio, o único dele criado para os palcos, em 1988, vinte anos antes do reconhecimento como Nobel de Literatura, ganha montagem, protagonizada por Celso Frateschi e Rodolfo Valente, que vai contra a corrente de quase tudo o que Jardim mostrou ao público até hoje.
O espetáculo, que reabre o Ágora Teatro, depois de quase quatro anos, é de um minimalismo extremo que, à primeira vista, nem parece comandado por Jardim. Isto, claro, para aqueles que acompanham com atenção suas encenações desde a estreia com Aberdeen: Um Possível Kurt Cobain, solo protagonizado por Nicolas Trevijano em 2012. Pawana é totalmente narrativo, descritivo, apoiado nas palavras do autor francês. As falas da dupla de intérpretes são dadas por meio de quatro monólogos, dois para cada um dos personagens, que abordam o sistema capitalista capaz de destruir o sustento da humanidade.
As interferências do diretor parecem mínimas, muita mais vinculadas à extração da emoção e da técnica dos atores que aos efeitos visuais e sonoros explorados comumente por Jardim. Tamanha economia de recursos surpreende porque até em uma recente experiência como ator, no espetáculo Agamenon 12h, concebido por Carlos Canhameiro, no ano passado, o artista tratou de imprimir sua investigação. Ele não abria a boca em cena e fazia apenas poucos gestos. Suas falas foram previamente gravadas, como se fosse um podcast, e disparadas por Jardim na hora da apresentação. Diante de um olhar minucioso, porém, algumas conexões são estabelecidas com outros dos mais de quinze projetos realizados por ele.
A virada de Jardim veio com Adeus, Palhaços Mortos! (2016), baseado no conto Um Trabalhinho para Velhos Palhaços, do romeno Matéi Visniec. Um cubo, no centro do palco, recebia projeções frenéticas para abordar as angústias de três artistas circenses renegados pelos novos tempos. A investigação imagética teve sequência em, entre outros, O Inevitável Tempo das Coisas (2018) e, principalmente, A Desumanização (2019), protagonizado pelas atrizes Fernanda Nobre e Maria Helena Chira. E vem desta montagem, adaptação do romance de Valter Hugo Mãe, correlações que sugerem a marca de Jardim em Pawana.
Em primeiro lugar, são dois personagens confrontados em um sutil jogo de espelhos que, aos poucos, pode ser notado. As semelhanças físicas entre Frateschi e Valente não podem ser ignoradas, assim como era isso que se impunha aos olhos do público entre Fernanda e Maria Helena em A Desumanização. Seriam eles a mesma pessoa em épocas diferentes, transformadas pelas experiências e escolhas da vida? Não são, mas até poderiam, só que, assim como na peça inspirada em Valter Hugo Mãe, essa associação não norteia a trama. É apenas mais um elemento a ser considerado pelo público em uma obra de arte de valor que, sendo assim, oferece diferentes e individuais leituras.
A ação de Pawana se passa em 1911, em um fluxo de lembranças sobre um fato ocorrido em 1856. Mas, como se tratam de memórias, o quanto de ficção não foi criada por cada um deles ao longo do tempo? Frateschi interpreta o experiente capitão Charles Melville Scammon, que, no comando do navio Léonore, foi pioneiro em descer a costa da Califórnia rumo a um santuário de baleias-cinzentas, um paraíso perdido. Por lá, as grandes mamíferas aquáticas pariam seus filhotes, e a tripulação deu início à exploração e ao extermínio em nome do valioso óleo destes animais. A matéria-prima, capaz de fornecer combustível e iluminação, sustentava boa parte da economia até o final do século XIX, período pós-Revolução Industrial.
Incorporado à equipe, o jovem marinheiro John de Nantucket (papel de Rodolfo Valente), então com 18 anos, cresceu sonhando com o lindo espetáculo da natureza das baleias. “Awaité pawana!”, gritavam os baleeiros em referência aos índios nativos da costa americana para anunciar “baleias à vista!” ou “eis as baleias!”. Na tripulação comandada por Melville Scammon, John viu o vermelho do sangue tomar conta do mar azul e, desta vez, era cúmplice do que viria a ser um genocídio de proporções desastrosas para a humanidade. “Naquela época, não era esse lugar desolado que encontrei hoje, esse deserto pelo qual se espalham ossadas e ruínas. Era uma verdadeira cidade de piratas, cheia de navios a vela ancorados na grande baía de Ensenada, e as revoadas de aves que rodopiavam em torno, esperando a hora da partida”, lembra ele, décadas depois, sobre a chegada.
Melville Scammon carregava, sim, o espírito de aventureiro. Muito se falava daquele refúgio secreto, mas ninguém podia provar que a real existência. Na primeira conversa com o tímido John, conforme o velho, já no fim da vida, recorda em um dos monólogos, deixou, sabe-se lá por que razão, a ganância se sobressair. “Pois eu vim em busca do ouro. Como não encontrei, fretei este navio para caçar baleias. Você sabe que ficaremos imensamente ricos, se nós acharmos o refúgio das cinzentas?”, disse o capitão, que, depois de uma semana no mar, avistou as baleias que poderiam confirmar suas expectativas.
Para um encenador, a mínima viabilização destas imagens exigiria amplitude, uma enorme boca-de-cena capaz de projetar a imensidão do mar azul, e os dois personagens, quase mínimos, diante da grandiosidade da natureza. Os espectadores de Pawana, no entanto, deparam com o intimista espaço do Ágora, que comporta uma semiarena para acomodar, no máximo, cinquenta espectadores. A imaginação de todos precisa ser estimulada, inclusive a dos artistas, o que é regra no teatro, mas, ali, se faz mais necessária. Até porque se vê o contrário do esperado. Dois homens ampliados pela sala compactada em um tom confessional diante de um olho no olho do público.
O cenário, criado por Sylvia Moreira, se limita a uma plataforma circular de 3 metros de diâmetro coberta por sal marinho. A luz, desenhada por Wagner Freire, varia do azul, do verde e, principalmente, do vermelho remissivo ao sangue. É desta pequena área circular que Frateschi e Valente transmitem a essência emotiva de uma tragédia sobre a alma humana e fica difícil não embarcar, principalmente porque a dupla diz muito diante de tão pouco.
Sendo Melville Scammon um navegador, certamente, ele adorava o mar, era um naturalista que se esqueceu da sua vocação inicial e, então, é ouvida da boca de Frateschi uma frase que representa o espetáculo: “Como alguém ousa amar o que matou?”. Pawana trata da destruição como metáfora para o oportunismo do ser humano ao priorizar os interesses capitalistas e o próprio bem-estar em detrimento da coletividade. Eles podem estar falando do crime contra as baleias, do desmatamento da Amazônia, mas também de ações particulares praticadas no cotidiano que se atingem a uma ou duas pessoas já se faz prejudicial.
Para a compreensão da mensagem torna-se fundamental o vigor e a retórica de Frateschi, grande ator de 71 anos, com mais de cinco décadas de uma carreira dedicada à força da palavra e ao engajamento social como norte. O intérprete se aproxima, inclusive, de uma relativa empatia por meio das próprias contradições do personagem. Sim, ele até sofre com os estragos que inaugurou, mas não deixa de celebrar o pioneirismo quase como um ato heroico, como algo que não tinha solução. Se não fosse ele, outro faria, então, pelo menos, foi o primeiro a chegar e alcançar tais objetivos.
Seria um maldito? É o que desconfia de cara John, lá em 1856. O tempo, no entanto, confunde suas impressões. A pouca familiaridade do público de teatro com o ator Rodolfo Valente, de 30 anos, experiente no audiovisual, contribuiu para que uma pureza inicial do seu John seja abraçada e se entranhe no personagem. Em seu desempenho, ele demonstra segurança na apropriação do difícil texto narrativo e escapa de perigosas “ciladas emotivas”, como nos trechos em que descreve a paixão por Araceli. A história da índia prostituída para os piratas serve de contraponto do encanto e da sedução feminina à grandeza da natureza e faz dela mais uma vítima das atrocidades da mente humana, especialmente a masculina.
Diante dos dois atores, José Roberto Jardim criou um espetáculo em que a atmosfera se amplia por conta das palavras e das econômicas imagens que se formam na semiarena do Ágora. Dizem que teatro é uma dramaturgia de qualidade e bons atores para contar uma história. Como encenador, Jardim enxergou essa máxima para levar ao palco Pawana com os bons ingredientes que tinha em mãos. Talvez ele próprio não se dê conta disso, mas, ao dispensar apetrechos eletrônicos e efeitos visuais, ampliou a sua assinatura e se mostrou um diretor que pode e sabe trabalhar com os recursos que têm a disposição. E, neste caso, criatividade também é isso. É concretização, é realizar o projeto e levá-lo ao encontro do público.
Foto: Lígia Jardim
Nota: As informações e opiniões contidas neste artigo são de inteira responsabilidade de seu/sua autor(a), cujo texto não reflete, necessariamente, a opinião do INFOTEATRO.