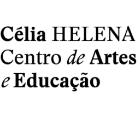Das canções compostas por Chico Buarque para o musical Ópera do Malandro (1978), Geni e o Zepelim é a mais emblemática. Outras podem ter feito maior sucesso em gravações independentes, caso de Folhetim, na voz de Gal Costa (1945-2022), mas a longa narrativa sobre a travesti, destratada por todos, que, acaba alçada momentaneamente ao status de salvadora, ficou tão marcada no imaginário que, quase 50 anos depois, impressiona qualquer ouvinte.
Prova concreta disto é a cena de Ópera do Malandro, adaptação do diretor Jorge Farjalla para o célebre musical brasileiro, em cartaz no Teatro Renault, em São Paulo, em que a canção gera catarses contínuas a cada apresentação. A plateia, emocionada, levanta-se para aplaudir por longos minutos a performance coletiva protagonizada pela brilhante Valéria Barcellos. É ela, uma atriz trans, quem interpreta Geni, a excluída que, apesar da índole duvidosa, é vítima do falso moralismo na trama. “Joga pedra na Geni, joga bosta na Geni, ela é feita para apanhar, ela é boa de cuspir, ela dá pra qualquer um, maldita Geni”, disse o compositor nos versos que ainda reverberam no teatro.

Não é à toa. A trama de Geni, por mais contraditória, envolve os espectadores e tem um peso político. Em 2026, ela tem um gosto diferente, que, apesar de dolorido por décadas de silenciamento, vem acompanhado de um sabor de triunfo. Geni, ao longo dos anos, nas inúmeras versões de Ópera do Malandro, foi vivida por homens. Grandes atores, como Emiliano Queiroz (1936-2024), Sandro Christopher, Eduardo Landim e Kleber Montanheiro, deram corpo a Genival, quer dizer Geni, como em uma das primeiras falas da peça ela trata de corrigir a cafetina Vitória Régia (papel de Totia Meireles, nesta montagem). Vitória, aliás, da representatividade LGBTQIAP+, que, findado o primeiro quarto de século 21, não permitiria uma Geni de outro gênero e, felizmente, o público estranharia tal opção.
A impactante presença de Valéria como Geni ressalta uma característica da visão de Farjalla para o musical de Chico – o empoderamento das figuras femininas da dramaturgia. O diretor transformou a peça em um espetáculo democrático em que não se sobressaem apenas os protagonistas absolutos ao longo da trama, mas uma série de personagens importantes que, representada por um elenco coral, é responsável por grandes momentos, a maioria deles protagonizado por mulheres.

Bem, vamos lá para o começo de tudo. Logo depois do estouro nacional da canção A Banda no II Festival de Música Popular Brasileira, na TV Record, em 1966, o jovem e tímido Chico Buarque se sentiu oprimido pela máquina da exposição. Para se resolver um pouco consigo mesmo, descarregou as energias escrevendo uma peça de teatro, Roda Viva, que aborda um cantor engolido pelo showbiz. Sob a direção de Zé Celso Martinez Corrêa (1937-2023), a montagem pisou forte no realismo, as senhoras de classe média e alta ficaram chocadas e os militares tiraram Chico para Cristo, culminando em seu exílio na Itália.
Em 1973, de volta ao Brasil, ele e Ruy Guerra escreveram Calabar – O Elogio da Traição, que remete às invasões holandesas do século 17 e enfoca Domingos Fernandes Calabar, um mestiço, que, em 1632, quando a luta registrava uma espécie de empate, tomou partido dos estrangeiros. Na véspera da estreia, em 13 de novembro de 1973, o espetáculo, dirigido por Fernando Peixoto, foi censurado, deixando 43 artistas desempregados e somando um novo trauma para Chico no teatro.
Com Gota d’Água (1975), versão de Chico e Paulo Pontes (1940-1976) para a tragédia Medeia, do grego Euripedes, ambientada em um conjunto habitacional carioca, tudo foi diferente, e Chico ficou feliz. Sob a direção de Gianni Ratto (1916-2005), Bibi Ferreira (1922-2019) magnetizou plateias lotadas na pele de Joana, a Medeia brasileira, que mata os filhos para se vingar do abandono do marido (vivido por Roberto Bonfim). O compositor teria se sentido estimulado para uma nova investida nos palcos, desta vez Ópera do Malandro.

Baseada na Ópera dos Mendigos (1728), do inglês John Gay, e na Ópera dos Três Vinténs (1928), dos alemães Bertolt Brecht e Kurt Weill, a ópera buarquiana destrinchava a bandidagem nacional e as figuras marginalizadas da Lapa carioca na década de 1940, como contrabandistas, prostitutas, cafetões e homossexuais, no fim do Estado Novo getulista. Dirigida por Luiz Antônio Martinez Corrêa (1950-1987), que editou a dramaturgia de Chico com outros quatro colaboradores, a peça estreou no Rio em julho de 1978, tendo no elenco Ary Fontoura, Otávio Augusto, Marieta Severo, Marlene (1922-2014), Elba Ramalho e Emiliano Queiroz, a Geni de então.
No começo do processo, Martinez Corrêa, irmão de Zé Celso, levantou a possibilidade de ter uma travesti no papel de Geni e foi voto vencido. Com os militares no poder, o tema da peça já era uma bomba-relógio e uma escalação tão ousada poderia ser um tiro no pé, justificativa para cortes ou proibições. A resistência foi superada na temporada paulistana, em 1979, em meio a uma grande troca de elenco. A travesti Andréa de Mayo (1950-2000) subiu ao palco como Geni, sem grande repercussão na mídia, em parte na carreira do espetáculo.

O assunto aqui é a encenação de Jorge Farjalla, mas para entender as opções do diretor é importante pensar nesse retrospecto como base para a sua releitura das minorias em um Brasil que pouco avança com o tempo. Além do empoderamento das mulheres e da concretização de uma Geni trans, Farjalla busca a essência da formação de um país pós-colonial para explicar os personagens mesmo que a trama não especifique um período ou uma localização. Quer dizer, as citações ao Cais do Valongo, área da zona portuária do Rio, onde a maioria dos escravos vindos da África chegava ao Brasil, reforça a ideia de uma ancestralidade que permeia a montagem. Seja através das remissões às religiões africanas, à umbanda ou ao vermelho dominante no visual, inspirado no inferno da Divina Comédia do poeta italiano Dante Alighieri, uma força incomum toma conta do que é visto no palco.
Esperto que só ele, Max Overseas (interpretado por José Loreto) é o contrabandista com lábia invejável que tira proveito de tudo e todos e despertou o ódio do cafetão Fernandes de Duran (papel de Ernani Moraes), até então o chefe do pedaço. Duran é casado com Vitória Régia (Totia Meireles), que “forma” as meninas exploradas na rede de bordéis do marido e não deixa de graça a sua parte no quinhão. Aqui, a personagem manipula abertamente o marido em nome de suas vantagens e caprichos financeiros.

Os dois são os pais de Teresinha (vivida por Carol Costa), moça que, na cabeça deles, deve conquistar um bom casamento e virar uma dama daquela sociedade, que, apesar do dinheiro, os ignora. Só que quem puxa aos seus não degenera, e Teresinha, cobra criada, se casa às escondidas com Max Overseas e, daqui a pouco, assume os negócios do marido, fazendo-o cair em desgraça.
Traições em nome do poder e da ascensão social estão em toda parte. Uma das mais marcantes é a amizade de infância de Max com o delegado Chaves, o Tigrão (representado por Amaury Lorenzo). Ele faz vistas grossas para as atividades de Duran e nunca deixou de proteger o antigo parceiro, Max. Diante do novo domínio de Teresinha, porém, vira um de seus algozes.
Geni é só a pá de cal para a derrocada de Max, mostrando que quem mexe com os poderosos enraizados nunca termina bem. Quem são os malandros de hoje? Esta é a pergunta de Farjalla. Além dos óbvios, muitos outros se espalham como ratos saindo do esgoto e, no Rio de Janeiro de bicheiros e milicianos, sempre cabe mais um. Sugestões que envolvem escolas de samba e manifestações de rua reforçam a intenção de contemporaneidade da adaptação.

Em meio a esse carnaval de cores vibrantes e atitudes insensatas, as canções de Chico Buarque continuam como um show à parte, fundamental para a compreensão da trama. Tanto que, além daquelas que integram a trilha original, como Viver do Amor, Hino de Duran, Tango do Covil, Teresinha e O Meu Amor, Farjala incluiu outros temas do compositor. Criada para Calabar – O Elogio da Traição, Tatuagem é pescada, assim como Atrás da Porta, do repertório da cantora Elis Regina (1945-1982), e Las Muchachas de Copacabana e Palavra de Mulher, criadas para a versão cinematográfica da peça, dirigida por Ruy Guerra em 1985. Esta última, virou símbolo de Lúcia (vivida por Andrezza Massei), a ex de Max.

Todas elas continuam irresistíveis e imunes ao tempo e defendidas por um afiado time de atores/cantores atestam a força do teatro musical brasileiro. Chegam a surpreender como é o caso do arranjo feito para Pedaço de Mim, defendida por Loreto em uma bela cena de Max na prisão. A direção musical assinada por Gui Leal, aliás, injeta novidades nos arranjos, elementos percussivos e inserções de outros sucessos impensados, como Vai, Malandra, de Anitta. O dueto de Loreto e Lorenzo em Doze Anos é um dos números mais inspirados e não poupa insinuações sexuais para a duradoura relação dos dois.
Diante de um elenco tão coral e do destaque feminino, as mulheres realmente se sobressaem em cena. Além de Valéria Barcellos, Carol Costa, que já brilhava em Clara Nunes, A Tal Guerreira, musical anterior de Farjalla, é uma Teresinha sob medida na malícia e nas manipulações da personagem. Totia Meireles, com a firmeza de sempre, é ótima na defesa das ambiguidades de Vitória. Andrezza Massei, porém, sempre tão impactante, soa mais discreta como Lúcia. Ana Luiza Ferreira (Fichinha), Marya Bravo (Dóris Pelanca) e Marina Mathey (Dorinha Tubão e cover de Geni) são destaques entre as prostitutas de Duran, teatralmente identificadas como o coro da montagem.

Diante da constelação feminina, José Loreto representa com o empenho possível Max Overseas, e Ernani Moraes, que, apesar da experiência de palco, é estreante nos musicais, imprime vigor e brinca com as sutilezas de Duran. Uma surpresa é Amaury Lorenzo, que, apesar de um papel relativamente pequeno, atesta versatilidade ao criar um Tigrão que parece falar mais pelos gestos, expressões e linguagem corporal que nos diálogos. Diferentemente do coro feminino, o coro masculino encontra menos chances, mesmo com nomes de reconhecido talento como Mateus Ribeiro, Patrick Amstalden e Paulo Viel.

Comandante da cena, Jorge Farjalla, na sua ambição de cravar a assinatura nos espetáculos, mais uma vez se dá muito bem. Tem ao seu favor as referências que boa parte dos espectadores carregam de Ópera do Malandro, as canções de Chico e, principalmente, uma inquietação que não permite com que ele simplesmente levante uma peça para colocar no palco. A Ópera do Malandro de Farjalla ganha contornos de ópera popular em um momento que o público precisa voltar a se deslumbrar com o teatro e não são tantas as produções com recursos capazes de cumprir essa função.

Farjalla não economiza nos efeitos e oferece um espetáculo que, além de fazer bem aos ouvidos, enche os olhos dos espectadores. Além disto, dialoga com as questões e os avanços do seu tempo de uma forma tão natural e profunda que se mostra incapaz de repelir o público. Assim como as canções de Chico Buarque sempre jogaram na cara da sociedade os problemas do país e, para muitos, aquele discurso político era só uma canção. Quem quiser ver Ópera do Malandro de Farjalla deste jeito também será bem-vindo e bem-vinda e, talvez, se finja de cego para aquele covil e saia do teatro a cantarolar.
Nota: As informações e opiniões contidas neste artigo são de inteira responsabilidade de seu/sua autor(a), cujo texto não reflete, necessariamente, a opinião do INFOTEATRO.