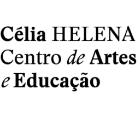Três dos nomes mais significativos do teatro paulistano na atualidade são pretos. E o que poderia ser salientado como um diferencial em décadas passadas começa, finalmente, a ser dito com naturalidade. Juntos no espetáculo Parto Pavilhão, em cartaz no Sesc Pompeia, eles contam a história de uma mulher preta e, por consequência, de tantas outras personagens femininas marginalizadas. Só que até bem pouco tempo esse papel possivelmente seria representado por uma atriz branca e aqui poderia ter início uma grande discussão – o que não é caso.
O fato é que Parto Pavilhão, dramaturgia criada por um autor preto, dirigida por uma encenadora preta e defendida por uma intérprete preta, é um espetáculo que conversa com conquistas da atualidade e não poderia ser diferente. Até porque ninguém deve ficar indiferente. A questão não é apenas racial e espelha muito da sociedade e da política brasileira, entre avanços e retrocessos.

A protagonista de Parto Pavilhão é Aysha Nascimento, 39 anos. Ela é uma das fundadoras do Coletivo Negro, grupo criado em 2008, junto dos atores Flávio Rodrigues, Jé Oliveira, Jefferson Martins e da atriz Thaís Dias, vindos da Escola Livre de Santo André, e do ator Raphael Garcia, da Escola de Arte Dramática (EAD), todos pretos e dispostos a se posicionar em um mercado que os excluía.
Entre os seus espetáculos se destacam Movimento Número 1: O Silêncio de Depois (2011), {Entre} (2014) e Ida, em que, sob a direção Rodrigues, Aysha viveu uma arquiteta preta que se recusa a projetar um quarto de empregada no apartamento do novo cliente. No terreno dos solos, Aysha brilhou em Preta Rainha, que enfoca uma oprimida mãe de família, que, no Carnaval, é tratada como deusa à frente da bateria de uma escola de samba.

Também atriz reconhecida, Naruna Costa, 41 anos, é formada pela EAD e assina a direção de Parto Pavilhão. É uma das fundadoras do Grupo Clariô, sediado em Taboão da Serra, região metropolitana de São Paulo, e, entre seus trabalhos, valem ser citados Hospital da Gente (2008), baseado em contos de Marcelino Freire, e Severina – Da Morte à Vida (2015), dramaturgia baseada no poema de João Cabral de Melo Neto.
O mais recente deles, Boizinho Manso e a Santa Cruz do Deserto (2023), criou uma alegoria entre as injustiças do Brasil de hoje e o massacre da Irmandade Caldeirão da Santa Cruz do Deserto, comunidade cearense liderada pelo beato José Lourenço, dizimada na década de 1930.

O dramaturgo responsável por Parto Pavilhão é Jhonny Salaberg, 29 anos, paulistano de Guaianases, extremo leste da capital, que ganhou projeção em 2018 com a peça Buraquinhos ou O Vento é Inimigo do Picumã, dirigida por Naruna. O elenco trazia, além do autor, Ailton Barros e Clayton Nascimento, o mesmo que virou fenômeno com o monólogo Macacos e, agora, percorre palcos internacionais.
Ao lado de Barros, Filipe Celestino e Marina Esteves, ex-alunos Escola Livre de Santo André, Salaberg formou em 2017 o coletivo O Bonde, que pesquisa sobre a necropolítica dos corpos pretos no Brasil. O espetáculo infantil Quando eu Morrer, Vou Contar Tudo a Deus (2019) e os adultos Desfazenda – Me Enterrem Fora desse Lugar (2022) e Bom Dia, Eternidade (2024) formam o repertório da companhia.

Toda essa apresentação antes de começar a falar do assunto desta coluna – que é Parto Pavilhão – serve para alertá-lo, caro leitor, que se você não conhece o trabalho destes três artistas é bom ficar atento. Oportunidade é o que não lhe falta. Parto Pavilhão estreou em fevereiro no Tusp, na Rua Maria Antônia, com sessões lotadas e recebeu duas indicações ao Prêmio Shell, melhor direção e dramaturgia. Aysha até poderia estar entre as finalistas de melhor atriz, mas deve ter esbarrado na preferência dos jurados diante de duas outras intérpretes com trabalhos irrepreensíveis, Mel Lisboa (Rita Lee, Uma Autobiografia Musical) e Noemi Marinho (O Vazio na Mala).
Logo no início de Parto Pavilhão, Rose, a personagem de Aysha, aparece com as mãos sujas de sangue e diz: “A verdade é que não sei de onde tirei tanta abobrinha, eu deveria ser atriz! Sim, atriz! Afinal de contas, eu não menti só hoje, eu minto desde que entrei aqui. Eu vivo uma mentira colada em mim como um papel de uma personagem que me forçaram a interpretar”. Esta fala, cheia de significados, já coloca a protagonista em um lugar que a afasta de qualquer ingenuidade ou bom mocismo, como uma sobrevivente que se adapta aos percalços da vida.

Aysha é Rose da Silva, a parteira. Diante da plateia, ela presta um depoimento, dá a sua visão de uma noite, nas suas palavras, memorável. Rose é uma técnica em enfermagem, detenta de uma penitenciária provisória para mães, que ajuda as mulheres nos partos e deu à luz na cadeia. Ela já era mãe de Júlia e foi parar atrás das grades por causa do pai de sua filha, que estava preso e pediu para que levasse uma encomenda escondida dentro do próprio corpo. Nas visitas íntimas, engravidou do segundo filho e, flagrada na revista, foi condenada a nove anos por associação ao tráfico.
Em uma semifinal da Copa do Mundo, jogo da Seleção Brasileira, Rose se vê diante de um molho de chaves em uma gaveta aberta que pode mudar a situação das outras detentas. Abrindo as celas, uma por uma, Rose tem a chance de libertar as presidiárias e fazer com que cada uma delas volte a viver com os filhos que nasceram lá dentro e, logo depois, foram despachados para as famílias. É a chance de Rose botar estas mulheres no mundo, como fez com tantos bebês. Mas algo dá errado e, entre as comemorações da vitória da Seleção Brasil, a anti-heroína se dá mal. Agora, precisa mentir e, quem sabe, minimizar as penalidades que podem recair sob as suas costas.

Aysha Nascimento é um acontecimento de atriz. Forte e frágil, dramática e irônica, uma espécie de entidade incorporada, santa e pecadora, sofredora e debochada. Rose talvez não devesse ter sido condenada, cometeu um crime por amor, pariu o segundo filho em uma cela e, nesta sucessão de azares do destino, representa todas as mães pretas que já colocam os rebentos no mundo conscientes de que talvez a liberdade não os acompanhe vida afora.
Em seu registro de interpretação, Aysha se distancia do vitimismo para imprimir uma dissimulação que humaniza Rose e faz o espectador se lembrar da máxima de que todo condenado é capaz de jurar inocência até o último momento.

Quando se pensa que Rose mora em um país racista e, consequentemente, produtor de um teatro racista, a personagem poderia tempos atrás, como já disse, ser vivida por uma atriz branca. Assim, entra em evidência a importância do lugar de fala – que em uma situação como esta se mostra essencial. Aysha, Naruna e Salaberg podem ter conhecido e até convivido com algumas Roses, então eles sabem a carga necessária para construí-la sem exageros, condescendências ou juízos de valor. Seria diferente se a mesma história saísse da boca de artistas brancos.
A encenação criada por Naruna conta com um diferencial, a direção musical de Giovani Di Ganzá, que coloca no palco a instrumentista Reblack. Através do seu violoncelo, ela pontua a dramaticidade da montagem, desde os momentos mais aflitivos até aqueles raros de serenidade em que a fala da personagem soa como se fosse embalada por uma cantiga de ninar.

A cenografia idealizada pelo Ouroboros Produções Artísticas (Carolina Gracindo, Thais Dias e Iolanda Costa) usa telas e redes que podem ser vistas como goleiras – em referência à partida de futebol – ou as grades das celas que privam aquelas mulheres da liberdade. A luz, desenhada por Gabriele Souza, é outro foco de tensão, capaz de iluminar a atriz por inteiro ou invisibilizar parte dela, de acordo com a narrativa.
Ao sair de uma apresentação de Parto Pavilhão é inevitável pensar em quantos Salabergs, Narunas e Ayshas podem ter cogitado o teatro como expressão artística em décadas passadas e não tiveram a chance de tirar esse desejo do imaginário e colocá-lo em prática.
As tentativas de consolidar o papel dos pretos nas artes cênicas não são tão recentes assim. O Teatro Experimental do Negro, companhia fundada no Rio de Janeiro em 1944 pelo ator e ativista Abdias do Nascimento (1914-2011), valorizava a identidade afro-brasileira e teve entre seus integrantes as atrizes Léa Garcia (1933-2023) e Ruth de Souza (1921-2019).

Por muito tempo, não se viu nada mais sobre a pesquisa racial, e o Bando de Teatro Olodum, que despontou na Bahia na década de 1990, foi um raro exemplo. Na televisão, o preto quase sempre era o empregado do núcleo endinheirado da novela e, no cinema, só ganhava vez nos filmes ambientados nas favelas, em tramas que enfocavam os tempos da escravidão ou comédias que exploravam caricaturas racistas. Quase sempre foi assim, volto a ressaltar. Raras eram as exceções.

Um novo e significativo movimento contra a invisibilidade começou na cena paulistana a partir da segunda metade da década de 2000 com a Cia. Os Crespos, o Coletivo Negro, o Clariô e O Bonde, entre alguns outros. Hoje, as emissoras de televisão abriram os olhos para a diversidade em elencos e narrativas, e o cinema, mesmo em uma fase combalida, parece lutar para se adaptar a essa situação. É como se as travas de uma porta tivessem sido abertas, como fez a personagem Rose. E, por isso, novos Salabergs, Narunas e Ayshas poderão sonhar em exercer a profissão de artista e, quem sabe, se sustentar com ela no futuro.

Nota: As informações e opiniões contidas neste artigo são de inteira responsabilidade de seu/sua autor(a), cujo texto não reflete, necessariamente, a opinião do INFOTEATRO.