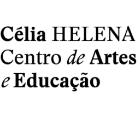No primeiro semestre de 2008, a cena paulista viveu um momento raro com duas versões de um clássico simultaneamente em cartaz. Permeado pelas tragédias gregas revisitadas no começo daquela década, o diretor Antunes Filho (1929-2019) apresentou Senhora dos Afogados, peça mítica de Nelson Rodrigues (1912-1980), repleta de contornos fatídicos.
O então ascendente diretor Zé Henrique de Paula, que teve passagens pelo CPT de Antunes e Grupo Tapa, havia lançado poucos meses antes, em agosto do ano anterior, uma releitura do mesmo texto. Na visão de Zé Henrique, Senhora dos Afogados era um musical. As desgraças da família Drummond foram embaladas por onze canções, entre elas Pedaço de Mim e A Ostra e o Vento, de Chico Buarque, e A Ilha, de Djavan, arranjadas por Fernanda Maia.

Em meio a esse frenesi rodrigueano, o diretor Zé Celso Martinez Corrêa (1937-2023) anunciou para breve a sua montagem para a peça escrita em 1947 e só liberada pela censura em 1954. Chegaram a ser ventilados os nomes das atrizes Maria Padilha e Mariana Ximenes como mãe e filha, Maria Eduarda e Moema, mas, com o tempo, o projeto caiu no esquecimento. Só durante a temporada de Fausto, em 2022, Zé Celso voltou a falar de Senhora dos Afogados como a sua empreitada seguinte. Passaria na frente até de A Queda do Céu, adaptação do livro de Davi Kopenawa e Bruce Albert.
Zé Celso não teve tempo nem para uma e nem outra. Em 6 de julho de 2023, o artista morreu aos 86 anos, devido às complicações das queimaduras provocadas por um incêndio no seu apartamento, em São Paulo, dois dias antes. Gênios não morrem, com o perdão do clichê, e a prova disso é que a peça ganhou a cena sob a direção de Monique Gardenberg embebida pela energia de Zé Celso.
Isto não quer dizer que a diretora não tenha impresso uma autoralidade, pelo contrário. O espetáculo é de Monique Gardenberg – e quem conhece sua obra enxerga a assinatura com facilidade. Há, porém, muito de Zé Celso em cada canto e não apenas na fotografia, clicada por André Gardenberg (1956-2019), irmão da diretora, mostrada no fim da encenação, gatilho para aplausos e lágrimas.

Senhora dos Afogados é a primeira produção do Teatro Oficina depois da morte do seu simbólico mentor. Estreou no Sesc Pompeia em 25 de abril, fica por lá até este domingo, 11, e, em 30 de maio, passa a ocupar o Teatro Oficina, sob as bênçãos de Zé Celso e de Lina Bo Bardi (1914-1992), a arquiteta que projetou os dois espaços. As adaptações para o novo palco – ou, melhor, para pista da Rua Jaceguai, no Bixiga – serão inevitáveis e, provavelmente, proporcionarão diferenças na experiência.
Sim, porque Monique Gardenberg, diretora de cinema e teatro de mão cheia com tem demonstrado há mais de duas décadas, realiza um grande espetáculo. Ela recebeu o convite do ator Marcelo Drummond, viúvo de Zé Celso, pouco depois da cremação do artista e, meio perplexa, precisou lembrar da importância dele em sua trajetória para se sentir à vontade.

Em 1994, Monique produziu a temporada de Ham-Let no Parque Lage e foi um acontecimento no Rio de Janeiro. Sete anos depois, com a bagagem de dois longas, Jenipapo e Benjamin, quase paralisou de insegurança antes de se lançar como encenadora teatral. Foi Zé Celso quem a empurrou para a sala de ensaios. O espetáculo era nada menos que Os Sete Afluentes do Rio Ota, do canadense Robert Lepage, épico com seis horas de duração, catorze atores e atrizes e sete atos que atravessam cinco décadas.
Monique tinha motivos para balançar, parecia loucura se comprometer a levantar tudo aquilo sem nunca ter feito teatro. Nada melhor, porém, que ouvir um louco para perceber que a loucura pode ter razão.
Como encenadora, Monique seguiu uma bem-sucedida trilha com Baque (2005), Um Dia, no Verão (2007), O Inverno da Luz Vermelha (2010), O Desaparecimento do Elefante (2013) e Fluxorama (2016). O universo de Nelson Rodrigues, em um primeiro momento, não teria nada a ver com seu estilo, marcado pela contemporaneidade e por uma relação imagética pouco conjugada a simbolismos.

Ela confessa que já tinha lido algumas peças do grande dramaturgo, mas não Senhora dos Afogados. Ao mergulhar no texto, depois de receber a missão de Zé Celso, entendeu que estava diante de uma “tragédia delirante” e seguiu a sua intuição, quer dizer, a de ser ela mesma, para justificar a herança. Seria este, provavelmente, o conselho de Zé Celso e foi assim que Monique fez.
Em uma casa à beira de uma praia, a família Drummond atravessa os dias entre assombrações do passado, desejos reprimidos e uma energia que paira no ar dando a entender que o minuto seguinte pode ser o fim de tudo. Não são nada leves as relações desenvolvidas por lá e, mesmo que arquitetura cênica de Marília Piraju coloque mar e areia no palco, o clima soturno se sobrepõe aos significados que a ambientação praiana poderia sugerir.

Na verdade, a família Drummond vive enterrada no breu e pronta para ser coberta por terra ou cimento. Misael (papel de Marcelo Drummond), o patriarca, é um juiz com ambição de se tornar ministro. Há 19 anos, ele convive com o tormento da morte de uma prostituta (representada por Sylvia Prado), ocorrido no dia do seu casamento, que é chorada até hoje pelas profissionais do cais do porto.
Sua mulher é Eduarda (interpretada por Leona Cavalli). Reprimida e refém de uma castidade imposta pela família, ela nunca conheceu a felicidade com o marido e enxerga no sexo o sinal de uma maldição.
O casal teve quatro filhos, três meninas e um menino. Duas delas morreram, engolidas pelo mar, e Moema (a atriz Lara Tremouroux) se sente perto do sonho de ter a exclusividade da atenção do pai. O quarto é Paulo (o ator Kael Studart), que mantém uma relação dúbia com a mãe, principalmente depois que o Noivo (vivido por Roderick Himeros) passa a despertar desejos contraditórios em Eduarda.

Prestes a se casar com Moema, o Noivo cresceu órfão em meio às prostitutas do cais e sua figura remete a de um cafetão. Com o corpo tatuado e o cheiro de mar, ele simboliza a maldição contra a família. Em sua loucura acelerada, a avó, Dona Marianinha (defendida por Regina Braga), brada que o mar não gosta de ninguém por ali e, depois de levar um a um, tomará a casa.
Mas Senhora dos Afogados não é fácil. Nada ali é fácil. É uma dramaturgia carregada de subjetividade, simbolismos e signos que, caso ganhe uma direção escorregadia, compromete o todo. Ciladas fáceis são tentar aproximar o texto do excesso trágico e limar a poesia ou montá-lo espelhado ao realismo ou à coloquialidade de outras obras de Nelson. São poucas as frases de efeito. É uma dramaturgia criada para que o espectador forme imagens na cabeça e, aqui, entra a escolha acertada de Monique.

Encenadora-cineasta, Monique facilita, no melhor sentido da palavra, o encontro do público com a obra ao conceber uma dramaturgia visual capaz até mesmo de tornar a tragédia um pouco palatável. Para isso, pode até parecer absurdo em um primeiro momento, mas a diretora pensou antes em Zé Celso e em si mesma para depois permear Nelson Rodrigues de tais características.
O que pode parecer presunção ou falta de modéstia se mostra o grande acerto de Monique. Ela admite a pouca intimidade com o universo rodrigueano e usa as palavras do dramaturgo a serviço de uma estética mais identificável com a obra de Zé Celso e a sua própria.
Uma sacada é a valorização do coro, essencial na tragédia grega e tão presente nas peças do Oficina, aqui representado pelas vizinhas da família Drummond. Para tal missão, Monique, com sua capacidade aglutinadora, reuniu as fortes presenças de Cristina Mutarelli, Giulia Gam, Michele Matalon e Muriel Matalon, que não só comentam as ações, mas julgam, apontam defeitos e fazem o mexerico em torno dos acontecimentos.

Presentes quase o tempo inteiro no palco, elas colocam uma alma brasileira em cena e atualizam a partitura rodrigueana. São tanto as fofoqueiras estereotipadas do subúrbio como as falsas moralistas da atualidade que, para reafirmar o conservadorismo, delatam e emitem juízos, muitas vezes levianos, sobre todos que as cercam.
Quanto às interpretações, Senhora dos Afogados se revela um espetáculo dominado pelas mulheres. Além do coro de vizinhas, as aparições pontuais de Sylvia Prado como a morta do cais do porto são impactantes e atingem o ápice na coreografia em cima da canção Você Vai ser o Meu Escândalo, de Roberto e Erasmo, na voz de Wanderléa.

Na pele da avó louca, Regina Braga, uma surpresa no elenco, é outra participação luxuosa em meio ao coletivo e reforça o quanto é importante – e cada vez mais raro – o público reconhecer os artistas mesmo em papéis considerados menos centrais. Dona Marianinha ganha outra leitura no olhar perdido e na postura à deriva de Regina: é a invisibilidade na velhice, porém perpetuada, como um espectro, pela pregação de ideias ultrapassadas.
Destaques incontestáveis são Leona Cavalli e Lara Tremouroux, intérpretes de Eduarda e Moema respectivamente, que, até pela semelhança físicas, são usadas por Monique como um permanente jogo de espelhos.

Integrante do Oficina na década de 1990 – ela foi a Ofélia do emblemático Ham-Let –, Leona atinge a maturidade ao aflorar a sensualidade reprimida e a dissimulação da personagem. A performance faz lembrar seus trabalhos consagradores em Toda Nudez Será Castigada (2000) e Um Bonde Chamado Desejo (2002).
Ela, inclusive, valoriza a atuação de Marcelo Drummond como Misael, um intérprete que não carrega a força trágica do personagem, mas, diante da intimidade com Leona, puxa uma dramaticidade que surpreende junto ao seu perfil discursivo. O mesmo não acontece com Kael Studart, inseguro como Paulo e pouco profundo nas angústias do personagem.

Com experiências no audiovisual, Lara Tremouroux é uma estreante no teatro e revela rara segurança para encarnar as complexidades de Moema. Ela imprime nuances que transitam entre a fragilidade e a manipulação e vai da menina até a mulher sem recorrer a estereótipos ou adotar obviedades de interpretação. Lara caminha por uma interpretação psicológica que confronta a sua Moema o tempo inteiro diante de Eduarda e Misael e, mesmo ao lado de Roderick Himeros, um ator inegavelmente mais físico e menos internalizado, não se afasta do trágico.
Ver a Senhora dos Afogados de Monique Gardenberg e Zé Celso Martinez Corrêa no palco é uma prova de que os clássicos existem para serem revistos e reinventados e, para isso, não é necessário fugir das essências e muito menos reescrevê-los. Depois das montagens de Antunes Filho e Zé Henrique de Paula, uma outra versão do texto ocupou os palcos paulistanos, aquela assinada por Jorge Farjalla em 2018 no Teatro Porto Seguro, que, apesar do elenco irregular, carregava características muito próprias.

O desafio superado por Monique, entretanto, vai além de encenar um clássico. Ela mexeu em conceitos e ícones que exigem cuidado para não parecerem profanados e os principais são Nelson Rodrigues e Zé Celso. Só que, acima de tudo, Monique mexeu com ela mesma, uma artista de características tão cosmopolitas, trazendo à tona as raízes brasileiras, mesmo que embalada como uma tragédia grega – algo que talvez só tenha feito no cinema, quando dirigiu Ó Pai Ó. No teatro, é a primeira vez e, olhando para o mar, a encenadora furou uma nova onda.
Nota: As informações e opiniões contidas neste artigo são de inteira responsabilidade de seu/sua autor(a), cujo texto não reflete, necessariamente, a opinião do INFOTEATRO.