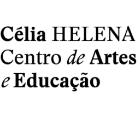Qualquer semelhança entre a Dra. Ruth Wolff e Dilma Rousseff é mera coincidência – embora não pareça. Assim como a ex-presidente do Brasil, a protagonista da peça A Médica, escrita pelo inglês Robert Icke, é uma mulher racional, técnica e acostumada a resistir às pressões sem abandonar os princípios mais caros. A competência de ambas, especialmente a da personagem ficcional, parece óbvia, mas uma série de ruídos e uma relativa inflexibilidade fizeram com que as duas, vítimas de conspirações, perdessem o controle em situações delicadas.
No caso de Dilma, o pulso firme como chefe do executivo nacional talvez tenha lhe custado a cadeira do Palácio da Alvorada depois de um golpe parlamentar decretar o seu impeachment em 2016. Quanto à Dra. Ruth, interpretada pela atriz Clara Carvalho, no espetáculo dirigido por Nelson Baskerville no Grande Auditório do Masp, uma sucessão de fatos a indicou que os novos tempos exigem uma capacidade de adaptação que, para sua geração, conotaria fraqueza.
Em menos de uma semana, a sólida casa de Ruth Wolff caiu, pelo menos no instituto comandado por ela, especializado em pesquisas sobre o mal de Alzheimer. A profissional branca e judia, autodeclarada sem religião, compra uma briga ao impedir um padre (representado pelo ator Kiko Marques) de entrar no quarto de uma adolescente, filha de pais católicos, para lhe aplicar a extrema-unção.

Emília, de 14 anos, parcialmente consciente, deu baixa no hospital depois de sofrer as consequências de um procedimento para um aborto. Na cabeça de Ruth, ela não solicitou a presença do padre e, caso ele fosse ao quarto, surtiria um efeito negativo na paciente, que se abalaria diante de “uma percepção da morte”.
O religioso grava a proibição enfática de Ruth e a acusa de, entre outras coisas, agressão física. Em meio ao tumulto, Emília morre sem o sacramento cristão. O vídeo viraliza na internet, e o caso toma proporções estratosféricas cercado de denúncias de racismo, intolerância religiosa e abuso de autoridade. “Você não faz ideia do que é mexer com uma família católica”, brada o pai da vítima (também interpretado por Kiko Marques). “Eu sou a pessoa que vai transformar a sua vida em um inferno!”
O dramaturgo e diretor inglês Robert Icke, de 38 anos, é um nome cultuado do teatro europeu e se especializou em modernizar clássicos, como Mary Stuart. A versão de Icke para o texto do alemão Friedrich Schiller (1759-1805) ganhou encenação brasileira do mesmo Baskerville em 2022 com as atrizes Virgínia Cavendish e Ana Cecília Costa na pele das rainhas Mary Stuart e Elizabeth I. Para criar A Médica, Icke se inspirou em Professor Bernhardi, peça do austríaco Arthur Schnitzler (1862-1931) escrita em 1912, em que o protagonista é um homem.
Consciente das discussões da contemporaneidade, Icke extrapola as celeumas entre fé e ciência. Ele monta um painel sobre diferentes visões de religião, sociedade e ética entrelaçado às questões de identidade, etnia e gênero em meio às irresponsabilidades da era digital. A real inventividade do dramaturgo ao retrabalhar textos alheios pode ser debatida. É inegável, porém, que ele imprime uma autoralidade que torna as histórias mais pungentes.

Trata-se de um processo semelhante ao que pode ser visto na telenovela Vale Tudo, na Rede Globo. A autora Manuela Dias transpõe para 2025 a trama criada em 1988 por Gilberto Braga (1945-2021), Aguinaldo Silva e Leonor Bassères (1926-2004), tão familiar a ponto de gerar desconforto e até irritação nos fãs da primeira versão.
Purismos à parte, no caso de A Médica, Icke é totalmente absolvido de comparações, em parte por um provável desconhecimento do público sobre a peça Professor Bernhardi, mas principalmente porque o teatro é um território mais livre para reinvenções. O que foi visto habita um espaço no imaginário individual, ao contrário da telenovela, que, na era do streaming, encontra-se disponível para ser revista e estimula acareações.
Não são poucas as transformações que Icke promove na narrativa, tanto que a mudança de gênero não fica restrita ao perfil da protagonista e outros debates de identidade e etnia, inicialmente nem tão óbvios, desafiam a plateia. Saltam aos olhos do público, em um primeiro momento, as discussões despertadas – no caso, as denúncias de racismo, intolerância religiosa e abuso de autoridade aplicadas à Ruth.

No decorrer da montagem, estas acusações podem ser dirigidas aos dois polos da trama, e o debate é acrescido de elementos que fazem parte da realidade de qualquer um dos dois extremos. “Nada é exatamente aquilo que você vê”, observa Cacá, a personagem da atriz Chris Couto, em uma ideia que pode resumir a temática da peça.
Além de judia e branca, a médica é uma mulher que endureceu para consolidar uma carreira em um ambiente predominante masculino. Permanentemente alvo de misoginia, ela evita se declarar lésbica, mesmo vivendo uma relação estável com Cacá. Como uma figura feminina de seu tempo, acredita que basta competência para que todos possam ser vistos como iguais na seara profissional.
O principal opositor às convicções de Ruth Wolff é o neurocirurgião Roger (interpretado por Sergio Mastropasqua), vice-presidente do instituto, sujeito de trânsito fluente entre os poderosos. Desde o início dos conflitos, o doutor Paulo (papel de Anderson Müller) defende o direito de o padre dar a extrema-unção, enquanto o doutor Cristian (representado pela atriz Adriana Lessa) não disfarça a angústia diante da escassa escuta de Ruth.
Mas como assim “doutor Cristian (representado pela atriz Adriana Lessa)”? É a partir da performance de Adriana que começa a ser revelada a mais provocativa das intenções de Icke e, se você acha que teatro é como série da Netflix e não gosta de spoiler, abandone a leitura por aqui.

Icke propõe uma quebra de realismo, mantida por Baskerville, que faz muitas coisas vistas não serem exatamente como exibem a cena. A primeira evidência delas é o estranhamento gerado pela presença de Adriana, tratada por um nome masculino, que compõe a personagem apoiada em movimentos heteronormativos, mas o que se vê remete a uma figura feminina. A atriz surpreende ao alimentar ambiguidade sem tropeçar em estereótipos.
Logo, o mesmo rompimento é reforçado ao sublinhar que o Padre José foi discriminado racialmente por Ruth, que não teria permitido um religioso preto no quarto da paciente. Padre José é interpretado por Kiko Marques, ator branco, que, em outro momento da peça, aparece na pele do pai da menina morta, com um figurino que pouco o diferencia do outro personagem.
Em tempos de veementes batalhas pela representatividade é louvável a escolha de Icke ao embaralhar as cartas sem deixar de reafirmar a diversidade. Ele não só faz da causa uma provocação como amplia propostas, fugindo de uma escala previsível e capaz até de causar incômodo. São onze atores – além dos já citados aparecem Cella Azevedo, César Mello, Isabella Lemos, Luisa Silva e Thalles Cabral – e, ao propor a desconstrução, Icke usa o jogo teatral para que qualquer um dos personagens tenha o biotipo imaginado pelo público.
A exceção é Clara Carvalho, com o brilho habitual, que precisa de uma representação o mais fiel possível da médica branca e judia para cravar a racionalidade de Ruth em contraste com os demais. Como é comum nas montagens do Círculo de Atores, coletivo fundado por Mastropasqua em 2013 com o objetivo de promover textos de qualidade comandados por diferentes diretores, o elenco alcança rara unidade e isto tem explicação. Não há ator ou atriz de maior ou menor bagagem em papel de maior ou menor tamanho. Todos têm importância na trama e contribuem com o conjunto para valorizar passagens de maior ou menor duração dos personagens.

A Médica é a quarta parceria do Círculo de Atores com a idealizadora e produtora Rosalie Rahal Haddad. Antes, foram levantadas A Profissão da Sra. Warren (2018), O Dilema do Médico (2023) e Hedda Gabler (2024), todas com um rigor incomum na farta cena paulistana. Pela primeira vez, o Círculo de Atores e Rosalie investem em uma obra contemporânea e de ousadia estética e de conteúdo – o que surpreende aqueles que os imaginavam apenas debruçados sobre originais de autores clássicos.
A escolha de A Médica revela uma disposição para dialogar com outras linguagens. Não à toa foi convocado para a direção Baskerville, artista pouco adepto às montagens conservadoras. Estas opções são continuadas no cenário prático construído por Marisa Bentivegna (com biombos que remetem às telas de celulares), na iluminação oscilante desenhada por Wagner Freire e na fundamental trilha sonora composta por Greg Slivar, que, executada ao vivo por dois instrumentistas, pontua a constante tensão.
Forte, enérgica e surpreendente, A Médica é uma peça sobre a necessidade de reciclar as ideias, algo que parece em falta no teatro atual, pelo menos sob uma embalagem reverente. “O que é um líder sem seguidores, é só uma velha que saiu para dar uma volta”, diz a personagem Kênia Andrade, ministra da Saúde e ex-aluna de Ruth, defendida pela atriz Isabella Lemos. Como teatro, a encenação de Baskerville prova o quanto uma sólida dramaturgia tem poder para prender o espectador e sacudi-lo para pautas urgentes.
Nada ali é discursivo, panfletário ou confessional. Tudo atinge a plateia a partir da terceira pessoa, mas, mesmo assim, fica fácil enxergar reflexos da sociedade e identificar os personagens com pessoas que povoam a realidade. Não é à toa a associação com Dilma Rousseff. Tanto os admiradores como os detratores, provavelmente, enxergarão um pouco da ex-presidente em Ruth Wolff.
Nota: As informações e opiniões contidas neste artigo são de inteira responsabilidade de seu/sua autor(a), cujo texto não reflete, necessariamente, a opinião do INFOTEATRO.