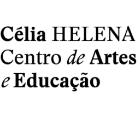Na França ocupada pelos nazistas na segunda guerra mundial uma assessora alemã do setor de cultura do governo de ocupação é incumbida de interrogar o pintor espanhol Pablo Picasso, gênio do modernismo europeu e figura pública reconhecida internacionalmente. O objetivo é fazer que ele indique, dentre três trabalhos apreendidos pelas forças de ocupação, um que supostamente será encaminhado a uma exposição “surpresa” a se realizar em três semanas.
A situação dramática que se desencadeia é linear e descomplicada. “Preciso sair daqui com um Picasso”, diz a assessora, Fraulein Fisher, “mas, o señor… só precisa sair daqui.” A peça se desenvolve inteiramente no espaço do porão em que Picasso é interrogado, e a linha do tempo não sofre interrupções.
As perguntas do questionário que Picasso deve responder vão se transformando num acalorado enfrentamento argumentativo entre ele e Fisher. De um lado, há o poder coercitivo da ocupação, e do outro, o poder da arte e o significado do trabalho do artista. No epicentro da discussão está em foco Guernica, painel que Picasso havia pintado em 1937 denunciando o massacre da cidade basca por caças alemães em apoio ao fascista General Franco.
Como conhecedora de arte e admiradora do trabalho de Picasso, Fisher vê no quadro uma obra prima, mas para exercer a tarefa de que foi incumbida, ela precisa invalidar seu significado político:
“Acho uma obra-prima. Mas serviu pra quê? Salvou alguma vida? Acabou com a guerra? Quem ganhou na Espanha? Quem está ganhando agora? Nunca houve no mundo um período em que a arte valeu tão pouco como agora. A arte não é nada contra a política, a política de verdade, das ruas, do ar que respiramos. A arte é a música de Schubert tocando enquanto as bombas caem. As bombas vencem.”
[…]
“Uma pintura sobre a política, a guerra, a morte. «Finalmente», o señor pensa, «VOU CRIAR UMA OBRA QUE SEJA UM MANIFESTO. QUE FAÇA A DIFERENÇA! Mas não faz diferença. Ela só é… uma obra-prima.”
A posição de Pìcasso como artista é reduzida por ela a uma questão de ordem individual:
“Para o señor, a guerra é um transtorno temporário. Uma coisa que atrapalha a pintura, a família, os amigos, o amor… Olha, não acho que pintou Guernica por razões políticas. Pintou porque sentia culpa.”
A resposta do pintor põe por terra a tentativa de invalidação:
“Não pintei Guernica para salvar vidas ou parar a guerra. PINTEI O QUADRO PORQUE SABIA QUE SERIA UMA OBRA-PRIMA. Quando as pessoas estão diante da sua grandeza, elas vão lembrar porquê é que foi pintada.”
No duelo argumentativo, Fisher apresenta a Picasso uma condição para liberá-lo:
“O señor, poderia sair daqui agora, com os três quadros debaixo do braço, um homem livre, sem problemas no futuro… basta fazer uma coisa.
PICASSO: O quê?
FRAULEIN FISCHER: Assinar uma declaração. Dizer que foi forçado a pintar Guernica. Que rejeita o quadro. (Picasso fica pasmo.) Poderia dizer que o quadro tem sido mal interpretado. Afinal de contas, não há nada no quadro que ataque os alemães. É um retrato das vítimas, não dos agressores. Nenhuma menção a de quem é a culpa. É só dizer o que não para de repetir, que não é um homem político. É só dizer … por que fez Guernica.”
É na resposta de Picasso que a questão central se coloca:
“Mas Fraulein Fischer… eu não fiz Guernica. Vocês é que fizeram.”
Para Picasso, o valor de Guernica como obra prima é inseparável de seu papel político no mundo concreto da história, pois impede que as circunstâncias ligadas à sua criação sejam esquecidas ou apagadas da memória coletiva.
Para Fisher, o que faz de Guernica uma obra prima é seu valor estético em si, ou seja, extrínseco ao contexto politico de sua época e ao mundo das guerras e das bombas.
II
Algumas questões se colocam a esta altura: o valor estético de uma obra é alheio ao sentido das questões políticas materializadas nela? E se essas circunstâncias históricas ligadas a essas questões tiverem deixado de existir ou tiverem sido superadas, essa obra terá deixado de fazer sentido? Sua validade artística “terá expirado”?
Essas indagações não são novas (pelo contrário), mas de tempos, por diferentes razões, voltam a ser tratadas como se nunca tivessem sido formuladas antes.
No Brasil, grande parte da produção cultural criada durante os 21 anos da ditadura passou por formas sumárias de censura e de apagamento. Quando se iniciou a fase da chamada redemocratização, o que restava dos elos que ligavam essa produção a diversas formas de luta política da casse trabalhadora já não existia mais, ou já não era mais reconhecível dentro dos parâmetros vigentes para as gerações mais novas.
Muitas das obras criadas nesse período chegaram a ter seu valor estético reconhecido, o que impediu que seu apagamento fosse completo. No campo editorial, chegaram a ser publicadas obras completas de diversos dramaturgos antes perseguidos implacavelmente pela censura. Já na década de 2000, Editais de Fomento ao Teatro, particularmente na cidade de São Paulo, proporcionaram recursos para montagens de peças que, em muitos casos, tinham ficado inéditas na época e no contexto em que haviam sido escritas. Debates e eventos, dentro e fora do âmbito universitário chegaram a recolocar essas peças em discussão muitos anos depois, principalmente através de linhas de pesquisas acadêmicas que se abriram em diversas áreas. Mas o país e as formas de percepção crítica e de sensibilidade tinham mudado drasticamente.
Diversos efeitos nefastos tinham sido acarretados pelo desmonte da educação e da cultura ao longo de todos esses anos. A reforma educacional implantada a partir de 1968 com os acordos Mec/USAID extinguiu disciplinas importantes das áreas de humanidades no ensino médio, incentivou a profissionalização técnica a toque de caixa, e precarizou as escolas e o magistério. O crescimento acelerado da cultura de massas, a circulação midiática e mercadológica de seus subprodutos, as políticas econômicas de arrocho salarial e a crise do mundo do trabalho, paralelamente, contribuiram para que fosse desaparecendo grande parte da consciência pensante sobre a a vida concreta do país. Referenciais políticos e culturais que poderiam dialogar de forma relevante com as condições do presente também tinham, pouco a pouco, deixado de ser percebidos e compartilhados. Se um nome pode ser dado para descrever o que resulta desse processo todo, esse nome é deshistoricização.
Em 1958 o historiador marxista galês Raymond Williams escreveu um ensaio com um título expressivo: “A cultura é algo comum” (“Culture is ordinary”). O sentido geral do texto é o seguinte: a cultura (ou seja, o conjunto de produções e práticas criadoras nos diferentes campos do conhecimento e das artes) pertence a todos os segmentos e classes de uma sociedade. “Uma cultura”, diz Williams, “são significados comuns, o produto de todo um povo, e os significados individuais disponibilizados, o produto de uma experiência pessoal e social empenhada de um indivíduo.”
Também pertencem a todos os segmentos e classes de uma sociedade as obras que, em diferentes épocas e com diferentes estilos e técnicas, trataram de lutas e de transformações que foram se sucedendo ao longo do tempo. O registro estético dessas lutas e transformações tem papel imprescindível para a sobrevivência da cultura como bem comum. Mesmo que hipoteticamente as circunstâncias figuradas numa obra tenham deixado de existir, o sentido coletivo e histórico que se configura nela é indissociável de seu componente estético, e continua a fazer sentido e a dialogar com quem tiver diante da arte o interesse pensante a que se refere Picasso na peça de Jeffrey Hatcher, e não a atitude de purismo esteticista cultivado por Fraulein Fisher.
“Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades”, diz o poeta,e com as mudanças as obras vão se vendo cada vez mais diante de diferentes padrões de percepção e de sensibilidade interpretativa por parte de seus espectadores e leitores. Não é impossível, por exemplo, que a atualidade de uma peça como “Papa Highirte”, de Oduvaldo Vianna Filho, chegue a ser questionada por alguns por abordar, entre os temas de que trata, a questão da luta armada e do foquismo revolucionário, tidos como superados diante do presente. Esse entendimento compromete pela base a própria percepção do teatro como tal: afinal a capacidade dele de construir sentidos e de desencadear análises também se nutre daquilo que foi vigente dentro da experiência histórica de outras épocas e de outras conjunturas, mesmo que supostamente já não o seja.
Assim, por exemplo, temos em “The crucible” (“As bruxas de Salém”), de Arthur Miller, uma análise do modus operandi do macartismo e de suas formas de dominação ideológica, e temos em em “A view from the bridge” (“Panorama visto da ponte”), do mesmo autor, o registro das condições de vida e exploração da força de trabalho de imigrantes sicilianos no contexto das políticas norte-americanas de imigração na época da guerra fria. Em “As bruxas de Salém” o ponto de partida é uma situação acarretada por um adultério e acusações de bruxarias, e em “Panorama visto da ponte” o desenlace trágico é desencadeado pela paixão incestuosa de um tio por sua sobrinha. Esses sentidos todos são inseparáveis entre si: o sentido estético de uma obra continua a viver e a estimular novas leituras e novas análises mesmo que as circunstâncias aludidas ou implícitas nela tenham sido superadas e deixado de existir.
Picasso (o personagem da peça de Jeffrey Hatcher) recusa-se a dizer que foi forçado a pintar Guernica, pois deseja que o sentido histórico da pintura possa continuar a lembrar as gerações do futuro do motivo que a fez ser pintada. A declaração que lhe pede Fraulein Fisher tem um preço alto demais para ele. A arte e a cultura, como bens comuns que são, pertencem ao âmbito do conhecimento, e por isso são transformadoras.
Referências
Arthur Miller. A morte do caixeiro viajante e outras 4 peças. Tradução José Rubens Siqueira. Prefácio Otávio Frias Filho. São Paulo: Companhia das Letras, 2009.
Jeffrey Hatcher. A Picasso. New York: Dramatists Play Service, 2007
Oduvaldo Vianna Filho. Papa Highirte. São Paulo: Editora Temporal, 2019.
Raymond Williams, “A cultura é algo comum”. In Recursos da esperança.Cultura, democracia e socialismo. Tradução João Alexandre Pechansky e Nair Fonseca. Editora da Unesp. 1ª edição. 2015
Sobre a montagem de “Um Picasso” pelo grupo TAPA: https://grupotapa.com.br/espetaculos/um-picasso/
Nota: As informações e opiniões contidas neste artigo são de inteira responsabilidade de seu/sua autor(a), cujo texto não reflete, necessariamente, a opinião do INFOTEATRO.