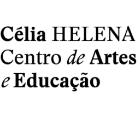Logo que entra em cena, Emcee (interpretado por André Torquato), o mestre-de-cerimônias do Kit Kat Club, dá um aviso ao público: “A vida está frustrante, eu sei. Deixem seus problemas lá fora”. Com esta mensagem, Cabaret, encenação de Kleber Montanheiro, baseada no musical de Joe Masteroff, com canções de John Kander e letras de Fred Ebb, promete um alívio, uma fuga da realidade bem-vinda na Berlim dos anos de 1930 e até no Brasil dos tempos atuais. Sob a direção geral de Montanheiro, versão brasileira de Mariana Elisabetsky e direção musical de Fernanda Maia, o espetáculo recria a decadente casa noturna alemã no 033 Rooftop, topo do Teatro Santander, no Complexo JK Iguatemi, lugar muito bonito, tudo limpinho, mas, ok, teatro é fantasia.
O espaço, com mesas e cadeiras, acomoda as pessoas e é oferecido um pacote extra de jantar com cardápio inspirado na gastronomia alemã, com mix de salsichas, saladas de batatas, carne de porco, chucrutes, sobremesas e drinks especiais, para aumentar o clima de imersão. O esforço é grande. Enquanto todos se acomodam, alguns bailarinos circulam pela plateia, soltam provocações sensuais aos espectadores e aumentam a expectativa em torno do que deve ser um espetáculo de sensações. Diante do aviso de que o show vai começar, uma voz maliciosa é ouvida em off: “É proibido fotografar ou filmar, porque tudo o que acontece no cabaré, fica no cabaré”. Este cabaré vai pegar fogo, muitos pensam.
Cabaret é um clássico. Lançado nos palcos em 1966, ficou celebrizado pela versão cinematográfica dirigida por Bob Fosse e protagonizada por Liza Minelli, vencedora do Oscar de melhor atriz por sua Sally Bowles em 1973. A personagem, aliás, virou sonho de consumo e entrega de diferentes atrizes e, aqui no Brasil, foi vivida por Beth Goulart e Claudia Raia, em montagens dirigidas, respectivamente, por Jorge Takla, em 1989, e José Possi Neto, em 2011.

Desta vez, a cantora e dançarina do Kit Kat Club é Fabi Bang, estrela incontestável dos musicais formatados no modelo Broadway, como Wicked e A Pequena Sereia, mas com uma alma brasileira que dá credibilidade mesmo a mais fantasiosa das personagens. “Mamãe acha que estou em um convento, num minúsculo convento perto de Clermont-Ferrand, não tem a menor ideia de que eu trabalho na boate de calcinha e sutiã”, diz ela, pedindo a cumplicidade da plateia, com espírito malicioso.
É lá no Kit Kat Club que Sally conhece o escritor norte-americano Cliff Barshaw (papel de Ícaro Silva), quer dizer, na verdade, um professor de inglês com aspirações literárias. Recém-chegado a Berlim, em uma véspera de Ano-Novo, o rapaz cruza na estação de trem com o aparentemente gentil e bem-intencionado Ernst Ludwig (muito bem representado por Bruno Sigrist), que lhe indica uma pensão para se hospedar.
Barshaw só quer escrever o seu novo romance em paz, sossegado, já tentou em outras cidades, mas acredita que encontrará a inspiração em Berlim. Logo, porém, começa a frequentar as noites do Kit Kat, se apaixona por Sally e entende que o clima político pesou. O nazismo toma conta da Alemanha e chegou mais perto do que ele esperava – podendo, inclusive, fazer dele um cúmplice das transações políticas. Barshaw estava certo. Virá de Berlim a inspiração para o livro.
O Emcee de André Torquato, meio demônio, meio clown, pontua todo o espetáculo como um narrador sexualizado e irônico, espécie de Ney Matogrosso recém-saído dos Secos e Molhados. Torquato é comunicativo, mesmo andrógino, não deixa de ser viril e pode até simbolizar uma imagem que remete a Adolf Hitler como o comandante do cabaré genocida em fase de implantação. Enquanto o ator ferve a cada aparição, o conjunto do espetáculo vai minando as expectativas do público com cenas arrastadas para quem espera, pelo menos, surpresas e novas sensações na prometida ambientação imersiva.

A tal imersão desaparece aos poucos, porque os bailarinos já não circulam mais entre as mesas e, lá pelas tantas, é possível se perguntar se faria tanta diferença assim esse Cabaret ser encenado em um tradicional palco italiano. As coreografias, criadas por Barbara Guerra, ficam mesmo limitadas ao tablado. Lá, no começo do segundo ato, os dançarinos até voltam a circular perto das pessoas, mas aí já não faz mais tanta diferença.
Todas as apostas de combustão recaem sobre Fabi Bang – e isso se torna pesado tanto à atriz quanto ao público. Fabi desenha com cuidado, com técnica a personagem. Sua Sally é patética, bonequinha de corda à beira de ver a bateria acabar, carrega uma ironia triste, é pura melancólica. Sabe que, no fundo, pisa no terreno dos fracassados. Falta, porém, mesmo diante da decadência, uma sensualidade à personagem, mas Fabi é uma atriz de recursos e não busca soluções óbvias. Daqui a pouco, roubará a cena – é o que muitos pensam e aguardam com ansiedade.
Acontece que o Cliff Barshaw de Ícaro Silva dilui qualquer fagulha da protagonista. O ator fica calcado no estereótipo de um mocinho, galã cheio de princípios e sem nuances – mesmo suas sugestões bissexuais são pouco exploradas. Parece que Silva acreditou que Barshaw já é um escritor e não somente um professor de inglês – tão iludido quanto sua namorada. E, assim, a Sally de Fabi vai se apagando. Fica no limite de uma alienação que não reverte em empatia. É uma pena porque se Fabi construísse uma Sally Bowles com pitadas de Dercy Gonçalves, Marília Pêra e até Claudia Raia, influências claras de sua gênese, a protagonista ganharia outra energia e evidenciaria a derrubada das ilusões do seu cabaré particular.
Diante da falta de química do casal principal, a história de amor que vale a pena salta do elenco coadjuvante. É aquela que envolve Fräulein Schneider (papel de Anna Toledo), a dona da pensão, eterna sobrevivente, como o comerciante judeu Herr Schultz (o ator Eduardo Leão), ainda adepto de um certo otimismo. Anna, sem dúvida, apresenta a melhor performance do elenco. Sua Fräulein Schneider é uma personagem de múltiplas camadas desde a primeira aparição – quando recebe Barshaw na hospedaria. Seu solo no ato inicial, So What, aliás, é o primeiro capaz de gerar alguma comoção entre os espectadores.
O salto de Anna, no entanto, vem quando o romance com Schultz se insinua como chance de redenção para uma mulher dura e mesquinha. Em exemplo de parceria, a artista alavanca Eduardo Leão em sua eficiente composição como Schultz e os dois levam o público a entender, por meio da história entre a alemã e o judeu, a gravidade do iminente regime nazista.

Os cenários moduláveis criados por Montanheiro viram trens, quartos e baús e são carregados com facilidade pelo ambiente em um acerto lúdico que flerta com o pragmatismo – algo perfeito para as intenções da encenação. Os figurinos, também assinados pelo diretor, não chegam a surpreender ou encher os olhos, mas fazem sentido diante da obra e das características dos personagens. Não custa lembrar que a Sally Bowles de Claudia Raia usava lingeries bordadas com cristais Swarovski.
A banda, composta por dez mulheres, comandada por Fernanda Maia, dá o suporte necessário que um espetáculo deste porte precisa e, quando muitos já desistiram, enfim, no número de encerramento, a grandeza de Fabi Bang toma conta da cena. A atriz, em uma tragicidade crescente, leva o público a afundar nas suas cadeiras ao longo da célebre música Cabaret e desaba no chão como um corpo metralhado, seja pelos nazistas ou por quaisquer outros que portem armas. É isso. É emoção, é imagem. André Torquato, como Emcee, volta a ser iluminado pelos refletores e provoca novamente a plateia: “Esqueceram de seus problemas? A vida aqui é linda”. É… Faltou gasolina para tocar mais fogo no Cabaret.
Nota: As informações e opiniões contidas neste artigo são de inteira responsabilidade de seu/sua autor(a), cujo texto não reflete, necessariamente, a opinião do INFOTEATRO.